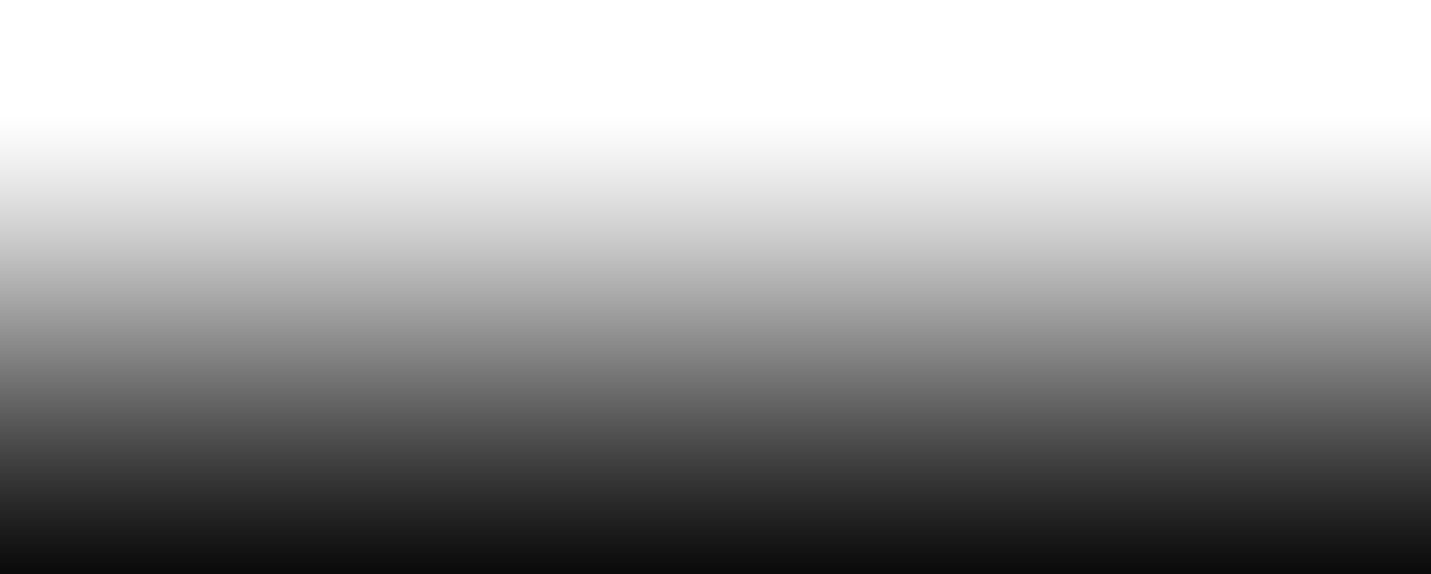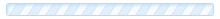O gênero de terror é abraçado por entusiastas do mundo todo e mantém já há muito tempo uma popularidade inabalável. Mas por que amamos filmes de terror? Por que nos interessamos tanto em assistir exibições macabras com palhaços assassinos, espíritos vingativos e loucos mascarados carregando uma serra elétrica? Pela lógica, deveríamos fugir de qualquer coisa que induz o medo. No entanto, o que acontece é exatamente o oposto.
As respostas do porquê sentimos tanta atração pelo horror variam conforme o espectador. Ainda assim, há duas verdades insistentes sobre o assunto que não podemos ignorar. A primeira é que, assim como a ficção científica, o terror tem uma capacidade incrível de evocar coisas aterrorizantes sobre o mundo real de uma maneira que parece controlada, segura e contida. Ele retrata e dramatiza pesadelos como abdução, possessão, invasão e horror ao corpo de formas que compreendamos.

A segunda é que independente do quão socialmente conscientes possam ser, os filmes de terror sempre serão apenas um fragmento esmaecido da realidade gutural do mundo em que vivemos: tem aparência perigosa e insidiosamente normal. Experimentar as histórias fictícias onde você pode escolher e apontar seus vilões é uma fantasia reconfortante, a ilusão do mal como algo óbvio que (na maior parte das vezes) pode ser derrotado. Aqui, fora das salas de cinema e plataformas de streaming, o mal é algo banal e cotidiano. Um terror que de tão normalizado, não se registra mais como tal.

O conceito de “banalidade do mal” foi criado por Hannah Arendt durante a cobertura que fez do julgamento de Adolf Eichmann, um dos principais organizadores do Holocausto. Arendt ficou horrorizada com a normalidade de Eichmann. Um burocrata sem graça supervisionou sem pensar duas vezes um genocídio sistemático. E a conclusão é assustadora: que o mal, o mal real, muitas vezes aparece sob o disfarce de ubiquidade, estando em toda parte a todo tempo, e por isso sendo admitido como o “normal”. Essa é a raiz do horror de toda opressão sistêmica, incluindo a objetificação e opressão de pessoas negras perpetuada continuamente pela supremacia branca.

Em Corra! (2017), Jordan Peele conseguiu retratar de forma impecável o quão verdadeiramente perigosa é a crueldade “casual” do dia a dia. O cineasta confronta a realidade opressora do racismo sistêmico estadunidense apresentando um tipo de horror que vai além das lobotomias e hipnose assustadoras.

A história gira em torno de Cris, que está visitando os pais da namorada pela primeira vez. Mesmo que inicialmente amigável, a trama se desenrola gradativamente de uma forma assustadora. Com cenários iluminados e coloridos, somos apresentados aos vilões da trama: uma família branca de classe média, comum. E, através de padrões frequentes de ignorância, o diretor nos mostra como tal supremacia branca sistêmica está tão enraizada na nossa cultura que as vezes nem percebemos que está lá.
/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/8070777/get_out3.jpg?w=640&ssl=1)

Corra! expõe a ignorância liberal e um húbris que por muito tempo tem sido permitido manifestar. Ecoa a teoria da banalização do mal de Arendt e desvenda como Peele usa as expectativas do gênero para dramatizar a horrível normalidade do mal do mundo real. No filme, tais fatores resultam num final quase absurdo, mas que na realidade leva a uma complacência tão perigosa quanto.