Escrito em 1987 por Haruki Murakami, Norwegian Wood é um romance de formação com toques autobiográficos, ambientado na Tóquio do final dos anos 1960, que narra a iniciação do jovem estudante de teatro Toru Watanabe à vida adulta. Toru precisa aprender a lidar com a perda do seu melhor amigo e uma paixão fadada ao desastre mesmo antes de começar. Momentos que estruturariam um inverno que o jovem lembraria para sempre.

O inverno em si já é uma metáfora natural para a morte, lembrando que a perda é natural e inexorável. Mas, como os personagens dos romances de Murakami, nascemos em uma cultura que esconde e nega a morte. Mantemos nossos moribundos isolados em casas de repouso e quartos de hospitais, impedindo contato e, consequentemente, qualquer possibilidade de assimilar a perda. Isso tudo antes mesmo de uma pandemia assolar o mundo. A popularidade duradoura do Norwegian Wood entre adolescentes e leitores de 20 e poucos anos repousa nas simples percepções sobre morte, perda e a angústia subsequente desta, fazendo dessa dor algo compreensível e próximo, uma visão quase ausente na cultura jovem que domina a mídia de massa.
Transformando tudo em gelo e escuridão, o inverno congela os rios e leva a vida à hibernação, até que o sol volte e a primavera aqueça o mundo de novo. A perda joga os personagens da ficção de Murakami no gélido de um inverno perpétuo. Presos em nossa ignorância cultural sobre a morte, eles frequentemente deixam de reconhecer o impacto da perda em suas vidas. E aprisionados por essa ignorância, os processos naturais do luto não podem se desenvolver, sequer curar sua psique. Mesmo como um homem mais velho refletindo sobre sua existência, Toru Watanabe permanece terrivelmente ignorante da sequência de mortes e suicídios que o deixaram preso em um estado de meia-vida. Se tal negacionismo, acometido a uma pessoa só, já causa estragos irrevogáveis, qual seu peso para uma nação inteira de enlutados em negação?

Enquanto Haruki Murakami traduz suas experiências com a perda através da ficção, a escritora americana Joan Didion abriga suas dores em uma obra quase jornalística, respondendo, mesmo que sem saber, às questões levantadas pelo autor japonês.
O luto, Joan Didion nos diz, é um lugar que nenhum de nós conhece até que cheguemos lá. Enquanto não conhecemos o terreno que essa dor habita, presumimos que haverá “cura” no fim de todo o trajeto. Como se o tempo, sozinho, funcionasse feito mágica, deixando tudo o que há de ruim para trás. O problema é que, quando batemos de frente com o luto, o cenário se estende: como podemos realmente presumir uma “ausência interminável”, “um vazio”, “o próprio oposto do significado”?
Esses pensamentos surgem no diário de memórias de Didion de 2005, O Ano do Pensamento Mágico, em que ela escreve sobre os 12 meses delirantes após a morte repentina de seu marido John Gregory Dunne, o homem com quem ela havia passado a maior parte de sua vida. Quando ele morreu por volta do Natal de 2003, após um ataque cardíaco fulminante na mesa de jantar, sua filha, Quintana, dias antes, fora internada na UTI, vindo a falecer pouco mais de um ano depois do pai.

As primeiras linhas do livro agora são bem conhecidas: “A vida muda rápido. A vida muda num instante. Você se senta para jantar e a vida como você a conhece termina.” E, por toda a obra, Didion busca aprender a lidar com a brutalidade repentina de se ver sem as pessoas que ama. O cerne da obra é a loucura do “pensamento mágico” onde, apesar da finalidade da morte, mantemos uma esperança irracional de que de alguma forma o tempo se reverterá, de que os mortos retornarão; tudo terá sido um erro horrível. Didion escreve sobre o luto como uma espécie de perturbação ou demência. Algum tempo depois da morte de John, ela percebe que parte do ritual do luto é dar suas roupas – mas ela não chega a mandar seus sapatos para a loja de segunda mão: ele precisaria deles se voltasse para a casa.

No entanto, o que faz da escrita de Joan Didion tão singular e seu livro tão necessário, é a profundidade com que a autora vasculha seus pensamentos, como busca compreender essa loucura e entender sua dor, ao invés de negligenciá-la. “Isso vai me tornar mais capaz de lidar com isso?” ela pergunta, escrevendo sobre suas experiências de uma forma que muita gente não consegue. Sua honestidade e relatos sem pudor são um ato de generosidade àqueles que passam pela mesma situação. Renunciar aos mortos, ela diz, só faz com que a dor se solidifique e se torne sempre presente. Fechar os olhos esperando que o tempo resolva tudo não ajuda de nada, no fim.
O presente de Didion para nós, por meio dos seus livros, é a lição de enfrentar o sentimento e buscar entendê-lo, independente do quão louco e absurdo possa parecer. Aprender a lidar com essa dor e aceitar a realidade a que estamos impostos. Só assim sobrevivemos ao inverno terrível que Murakami tanto alerta em suas obras e que tem nos devorado no último ano, mais do que nunca.

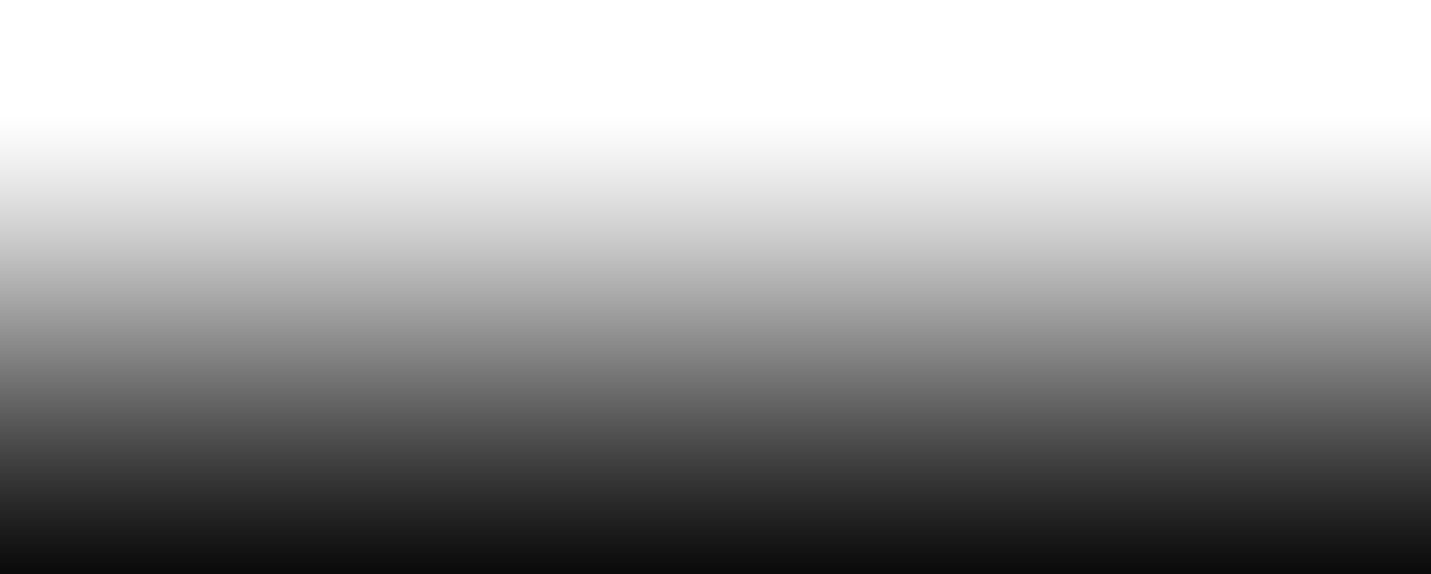











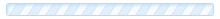
Você precisa fazer login para comentar.